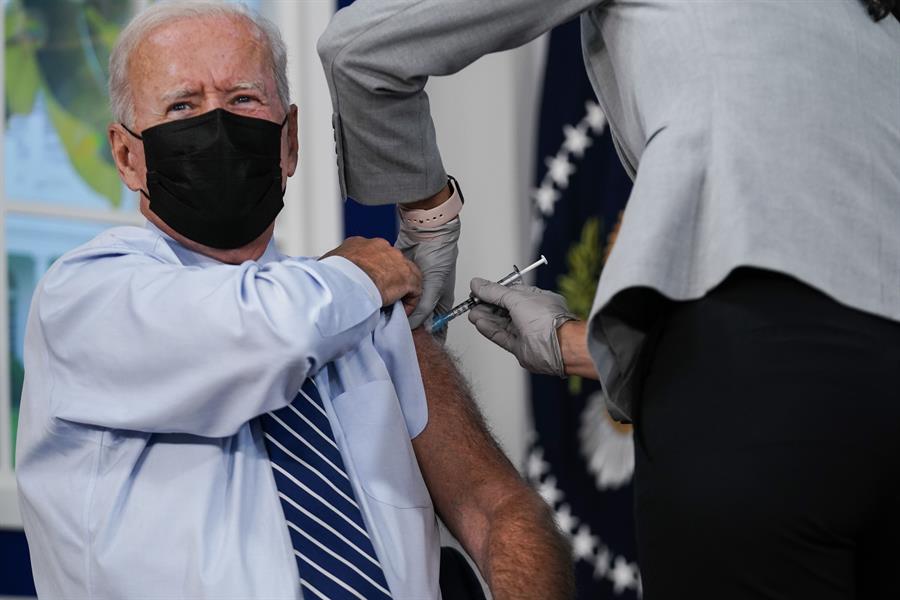Avesso a locais turísticos, o escritor gaúcho Marcelo Carneiro Cunha tinha 44 anos quando saiu de um cinema no bairro de Greenwich Village na noite de 9 de setembro de 2001 e fitou as imponentes torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ele, que visitava a cidade para dois eventos, nos dias 10 e 13 de daquele mesmo mês, lembrou momentaneamente do atentado terrorista cometido no local em 1993, quando um caminhão-bomba foi detonado na garagem de um dos prédios, matando seis pessoas e deixando mais de mil feridos. Os detalhes de um dia comum para ele seriam esquecidos rapidamente se logo depois a cidade não se tornasse palco de uma cena de filme de terror. Poucos sabiam, mas aquela noite já fazia parte de uma contagem regressiva da Al Qaeda, que no dia 11 conseguiu sequestrar quatro aviões comerciais, matar quase 3 mil pessoas e derrubar as estacas financeiras no coração da cidade mais populosa dos Estados Unidos.
Duas décadas se passaram, mas Marcelo ainda lembra do céu limpo e azul que encontrou ao acordar de ressaca no dia 11 de setembro em um hotel na Union Square, a pouco mais de 3 quilômetros de distância das duas torres, que já estavam incendiadas após serem atingidas por aviões sequestrados. “Não é uma coisa tão incomum assim acordar com barulho de ambulância e polícia em Nova York. Sempre tem alguma coisa acontecendo”, recorda. Ele andou por alguns minutos para tomar café da manhã e logo percebeu uma concentração de pessoas ao redor de uma TV. Foi pelas telas que entendeu que algo estava errado. Primeiro vieram as manchetes informando que aviões caíram na Pensilvânia e no Pentágono. Depois, imagens das duas torres que tinha visto dias antes repletas de fumaça. “Quando viro para trás, aí sim estava a cena de ‘Godzilla’. Via na terceira avenida as pessoas subindo em massa, cobertas de fuligem, de cinzas. Eu devia estar a um quilômetro e meio mais ou menos do epicentro. Então, daí por diante você começa a encaixar as peças na cabeça, tentar construir uma imagem do que está acontecendo naquele momento. Eu não vi, como muitos viram na TV, o primeiro avião bater. Eu estava dormindo. Quando eu acordei, tudo já tinha acontecido, estava acontecendo”, lembra.

Márcia viveu em Nova York até o ano de 2014, quando voltou para o Brasil
O primeiro instinto do brasileiro foi ir até o local para noticiar e entender melhor o que estava acontecendo, mas, barrado pela polícia, que tinha levantado cordões de isolamento a quarteirões de distância das torres, e dentro de uma Nova York completamente sitiada, ele foi ao mercado com intuito de estocar alimentos caso não pudesse deixar o município nos próximos dias. “Naquele momento ali ninguém sabia que este era o limite, que já tinham acontecido os quatro atentados, ninguém sabia quantos mais aconteceriam. Era aquela coisa de olhar pra cima e pensar ‘Qual é o próximo? O Empire State?’”, recorda. A menos de dois quilômetros de distância dele, a paraense Márcia Condurú, então com 37 anos, também era tomada pelo mesmo sentimento de incerteza. Ela morava com o marido às margens do Rio Hudson, usado como ponto de referência para os terroristas encontrarem as torres, e passeava com a cadela de estimação, Chelsea, quando viu o fogo e a fumaça em um dos prédios. Ainda sem saber do ataque, voltou em casa, pegou a câmera fotográfica que usava para fazer um curso na área, e decidiu registrar o ocorrido.
“Fiz umas fotos de longe, mas apareceu um outro avião e entrou em cheio na outra torre. Foi aí que comecei a tremer, mas não desisti de continuar andando. Sem raciocinar, comecei a chorar muito. A maioria das minhas fotos estão tremidas. De repente uma multidão começa a vir na minha direção. Pessoas gritando, chorando, berrando e outras em choque como eu. Não conseguia pensar. resolvi me sentar na soleira da calçada e comecei a orar”, narra. Antes de deixar o apartamento, ela tinha sido avisada pelo porteiro que a ação no WTC poderia ser um atentado terrorista. O marido, Bob, estava em reunião a poucos quilômetros de distância e diante do caos e da incerteza, Márcia ficou paralisada. “Escutava as pessoas falarem que era uma guerra. Que iriam atacar Washington. Chorava e pensava que eu iria morrer longe da família, que estava em Belém do Pará. Sentada e sem pensar, apenas olhando as torres, a segunda torre atingida desaba. Uma nuvem de fumaça gigante com muita poeira envolvia a outra torre. Depois de um certo tempo, não tenho ideia de quanto, a outra torre desabou. Ai eu não conseguia me mexer. Fiquei prostrada. Estava no meio do caminho. Fiquei horas prostrada. Sentada”, recorda.
As fotos tiradas por Márcia no momento do atentado se perderam em caixas ao longo dos anos, mas as memórias do horror estão guardadas na mente e continuam a emocionar após duas décadas. Ao voltar para casa, ela precisou acalmar a família, que tinha deixado diversas mensagens no correio eletrônico em busca de notícias sobre ela. “Liguei para o Brasil. Acalmei todo mundo. Falei com meu pai e meus irmãos. Eles sabiam que eu morava na esquina do rio Hudson que tinha a vista das torres. E que fazia caminhadas de bicicleta na área do Battery Park. Naquele dia falei com jornais e rádios do Brasil. O Bob queria se inscrever e ser voluntário, mas não conseguiu”, lembra. Naquele dia, filas de pessoas foram formadas nas ruas de Nova York para doação de sangue e para auxiliar aqueles afetados pelos ataques.” Marcelo Cunha, por sua vez, se comunicou com a família após conversar com colegas de um jornal gaúcho. Sua aversão a locais turísticos, porém, serviu como tranquilizante para a mãe que estava longe e não se preocupou muito.
Fonte: Jovem Pan